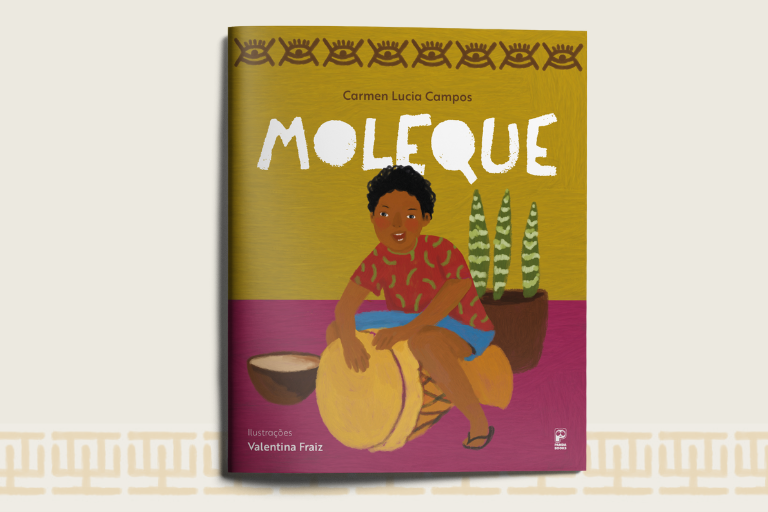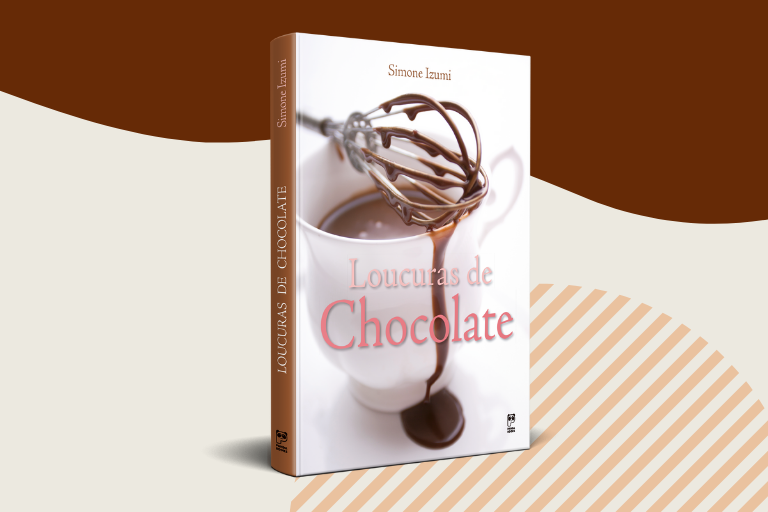Biólogo e paleontólogo fazem trabalho inédito sobre os animais que habitaram o território brasileiro, há dez mil anos, na Idade do Gelo – e os seus parentescos com a fauna atual
Você já ouviu falar dos notrotérios e dos gliptodontes? Saberia desenhar um pampatério? Prepare-se, então, para conhecer um pedaço ainda não revelado da história da fauna brasileira. Fauna, não. Megafauna. Lançado pela Panda Books, “Gigantes do Passado” é o livro que reúne informações e curiosidades sobre grandes espécies de animais que habitaram o território brasileiro durante a chamada Idade do Gelo, há cerca de 100 mil anos, e que de alguma forma estão relacionados a animais que estão por aqui até hoje, como onças, tatus e capivaras.
O texto é resultado de um encontro entre o biólogo Guilherme Domenichelli e o paleontólogo Ariel Milani Martine. Parceria iniciada há 20 anos. Além de serem nascidos na região do ABC, na Grande São Paulo, eles compartilham outras afinidades, que resultaram nesse lançamento. Os dois são professores (Ariel leciona em universidades, e Guilherme, nos ensinos fundamental e médio). “Gostamos de museus de história natural e também de estudar animais do passado”, acrescenta Guilherme, autor de quatro livros juvenis, todos publicados pela Panda. Cabe aqui, aliás, sublinhar a diferença fundamental entre biologia e paleontologia: o paleontólogo estuda a fauna do passado; o biólogo, a do presente.

Ficou a cargo de Ariel reunir as informações sobre este período distante da história, que habita o imaginário das pessoas de maneira muitas vezes distante do que foi a realidade. Afinal de contas, o planeta Terra já passou por diversos períodos glaciais, de temperaturas baixíssimas, mas poucos foram os que, de fato, congelaram todo o globo. Neste período glacial mais recente, o Brasil não congelou: “As pessoas têm uma ideia genérica de que na Idade do Gelo o mundo todo ficou coberto de gelo e a fauna era onipresente, como se tivéssemos, por exemplo, um mamute no território brasileiro. Comentando sobre esta confusão, percebemos que poderia dar um caldo para um livro”, lembra o paleontólogo. “Os bichos brasileiros eram diferentes dos bichos do Hemisfério Norte”.
Guilherme transportou essa história para os dias atuais. Alguns animais de hoje (como a onça pintada e o lobo guará) foram, em alguma época, contemporâneos e competidores desses gigantes extintos ou descaracterizados diante da evolução de suas espécies. Falando em evolução, alguns dos gigantes do passado evoluíram até desembocar em animais que hoje são conhecidos de todos nós: o notrotério, que abriu este texto, era um bicho-preguiça gigante; os tatus, por sua vez, guardam parentesco com os gliptodontes e os pampatérios: “Nós fizemos um paralelo muito bacana”, orgulha-se Guilherme. “Uma onça pintada disputou alimentos com um tigre-dente-de-sabre, por exemplo. Inclusive os humanos caçaram e foram caçados por esses bichos. Fizemos essa mistura porque ela existiu”.
Guilherme elogia também o trabalho do ilustrador Pábulo Dominicano, responsável por fazer a representação visual dessa mistura entre passado e presente, desenhando em um mesmo cenário as espécies extintas e as que estão conosco no presente. Ah, entra aqui uma outra ciência: a arqueologia, dedicada ao estudo do homem primitivo. Muito do que está no livro neste aspecto vem do trabalho da antropóloga Niède Guidon, uma das “feras da ciência” do Brasil exaltadas em um capítulo especial de “Gigantes do Passado”.

O livro já sai também com uma espécie de “spin-off” (produto derivado do original). Chega às livrarias ao mesmo tempo um jogo de cartas, no estilo Super Trunfo, com os animais de “Gigantes do Passado” A dupla reuniu fichas técnicas com peso, altura, hábitos e expectativa de vida de 50 animais, do passado e do presente (alguns não retratados no livro). Foi quando perceberam que a absorção seria melhor se isso se tornasse um jogo. As cartas são divididas entre os participantes e, de maneira alternada, eles escolhem um dos quesitos, comparam os números e o vencedor fica com a carta do rival. É a cartada definitiva para que o livro atinja o seu principal objetivo: “Com tanta informação, a garotada entenderá que a paleontologia vai muito além dos dinossauros”, empolga-se Ariel. Eu também sou apaixonado por dinossauros, mas temos uma vida pretérita extraordinária”.





 O processo de criação de “A barca do canoeiro”, lançamento da Panda Books, foi feito em uma via de mão dupla: a partir das frases criadas, Beto Furquim estruturava a adaptação da narrativa bíblica da Arca de Noé; ao mesmo tempo, quando necessário, ele buscava algum jogo de palavras que atendesse à alguma demanda para o desenvolvimento da obra. O toque final veio do ilustrador Marcello Araújo, outro apaixonado pelo mundo animal, que desenhou todas as ilustrações a lápis, nos dois lados de uma folha de papel, antes de transportá-las para o computador: “Assim como Marcello deu toques sobre o texto, eu também dei palpites sobre as ilustrações”, afirma Furquim. “Se cada um tivesse feito apenas o seu trabalho, algumas coisas não teriam surgido”.
O processo de criação de “A barca do canoeiro”, lançamento da Panda Books, foi feito em uma via de mão dupla: a partir das frases criadas, Beto Furquim estruturava a adaptação da narrativa bíblica da Arca de Noé; ao mesmo tempo, quando necessário, ele buscava algum jogo de palavras que atendesse à alguma demanda para o desenvolvimento da obra. O toque final veio do ilustrador Marcello Araújo, outro apaixonado pelo mundo animal, que desenhou todas as ilustrações a lápis, nos dois lados de uma folha de papel, antes de transportá-las para o computador: “Assim como Marcello deu toques sobre o texto, eu também dei palpites sobre as ilustrações”, afirma Furquim. “Se cada um tivesse feito apenas o seu trabalho, algumas coisas não teriam surgido”.